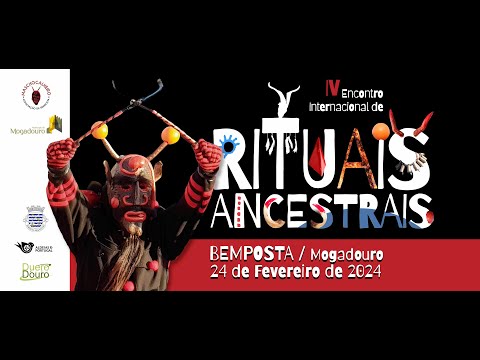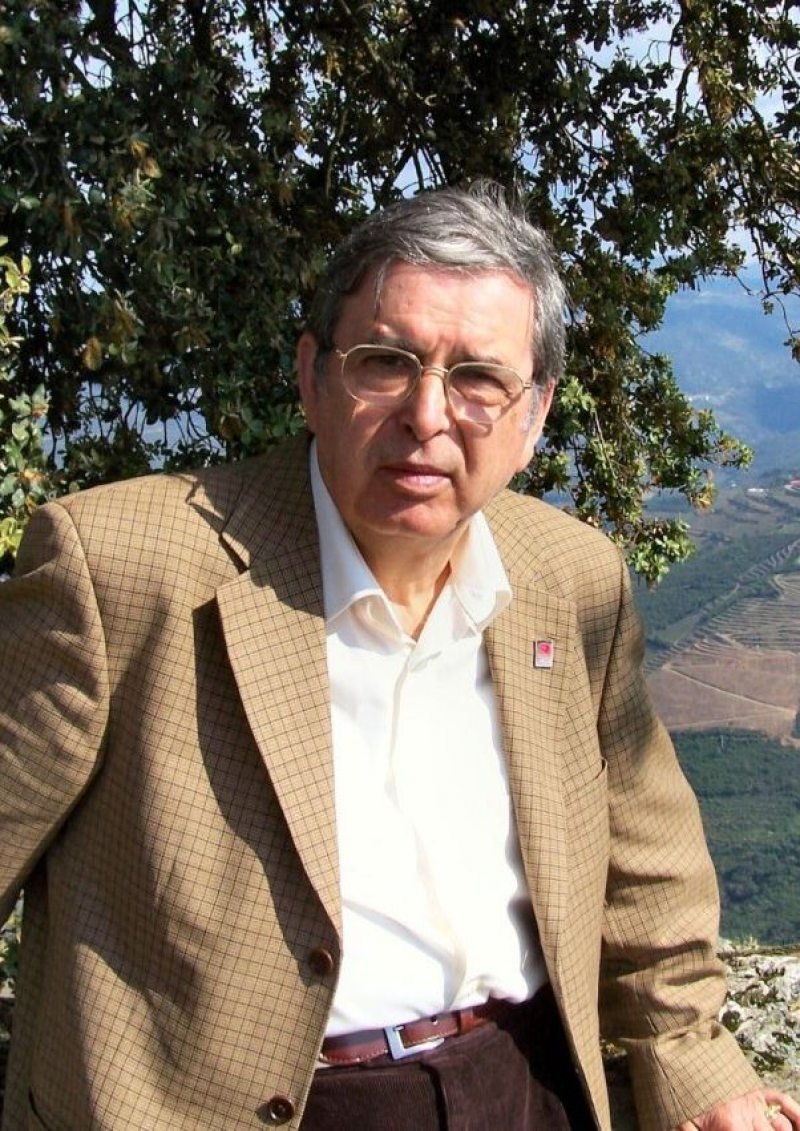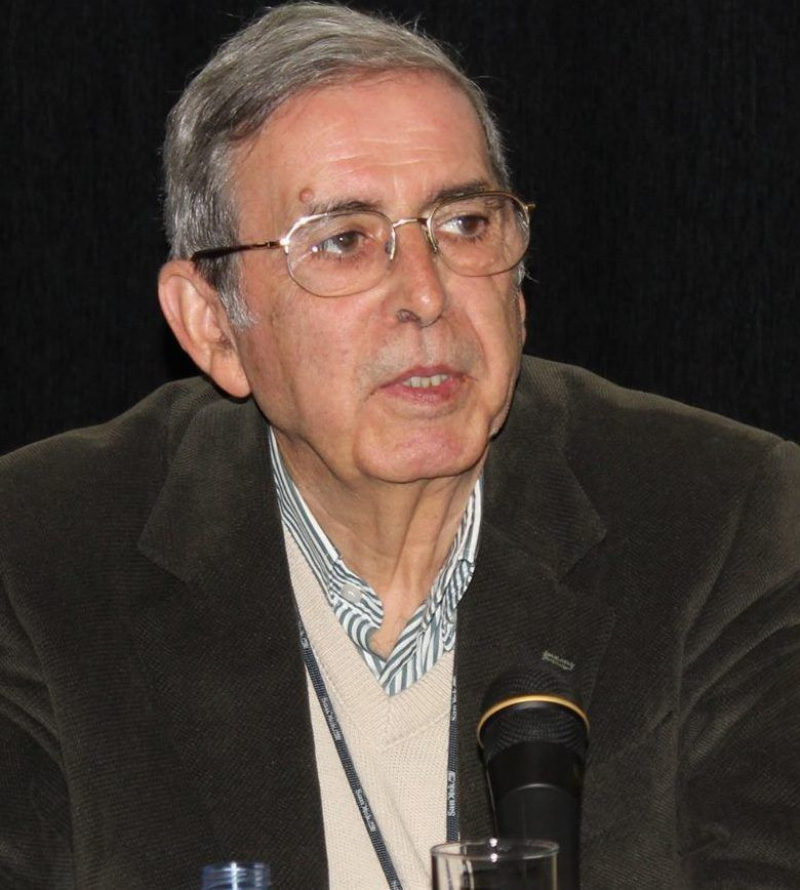Destaque

O documento também foi aprovado por unanimidade
Mogadouro aprova contas de 2023 que revelam "maior execução orçamental de sempre"

PJ investiga alegado roubo e sequestro de casal em casa
A Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real está a investigar um alegado roubo e sequestro de um casal esta madrugada, na pró...

Dois homens detidos por cultivar canábis em casa em Macedo de Cavaleiros
A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve dois homens, de 29 e 35 anos, no concelho de Macedo de Cavaleiros, distrito d...

Desportivo de Chaves empata perante Estoril Praia reduzido a nove
O Desportivo de Chaves resgatou um empate 2-2, aos 90+20 minutos, perante um Estoril Praia que ficou reduzido a nove nos...

Homem de 80 anos morre em capotamento de trator em Faílde
Um homem de 80 anos morreu hoje na União das freguesias de Parada e Faílde, em Bragança, na sequência de um capotamento...

Moreno quer Chaves focado em si mesmo para competir no duelo com o Estoril Praia
O treinador do Desportivo de Chaves disse hoje que o plantel estará focado no que pode controlar frente ao Estoril Praia...

Freguesia de Aguieiras tem primeiro ginásio numa aldeia do concelho de Mirandela
A junta de freguesia de Aguieiras, Mirandela, criou o primeiro ginásio em meio rural naquele concelho do distrito de Bra...

Previsões apontam quebras de 50% na cultura da amêndoa no Nordeste Transmontano
A Cooperativa dos Lavradores do Centro e Norte (CLCN), sedeada em Mogadouro, avançou hoje uma previsão de quebra de cerc...

Acusado de matar irmão em Vila Pouca de Aguiar conhece decisão a 14 de maio
O Tribunal de Vila Real marcou hoje para 14 de maio a leitura do acórdão do julgamento de um arguido que confessou ter m...